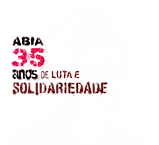*Sandra Garrido de Barros
 A construção social da política nacional de controle da AIDS teve importante participação dos movimentos sociais em diversos momentos. Desde a formulação inicial do Programa de DST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), que atendeu a uma demanda de um grupo de representantes do movimento homossexual sensibilizado pelas notícias vindas do exterior, pela divulgação dos primeiros casos brasileiros e pelo reencontro de ex-militantes do grupo Somos em uma reunião no Hospital das Clínicas para apresentar o uso do interferon como tratamento para a AIDS. Naquele momento, surgia, no Brasil, um espaço de luta contra a epidemia de AIDS (espaço AIDS), envolvendo agentes de diferentes campos e/ou espaços sociais (campos médico, burocrático e científico, do espaço da saúde coletiva e movimentos sociais). Ao longo do seu processo de conformação juntaram-se os movimentos de hemofílicos, talassêmicos, profissionais do sexo e as organizações não-governamentais de luta contra a AIDS (ONGs/AIDS).
A construção social da política nacional de controle da AIDS teve importante participação dos movimentos sociais em diversos momentos. Desde a formulação inicial do Programa de DST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), que atendeu a uma demanda de um grupo de representantes do movimento homossexual sensibilizado pelas notícias vindas do exterior, pela divulgação dos primeiros casos brasileiros e pelo reencontro de ex-militantes do grupo Somos em uma reunião no Hospital das Clínicas para apresentar o uso do interferon como tratamento para a AIDS. Naquele momento, surgia, no Brasil, um espaço de luta contra a epidemia de AIDS (espaço AIDS), envolvendo agentes de diferentes campos e/ou espaços sociais (campos médico, burocrático e científico, do espaço da saúde coletiva e movimentos sociais). Ao longo do seu processo de conformação juntaram-se os movimentos de hemofílicos, talassêmicos, profissionais do sexo e as organizações não-governamentais de luta contra a AIDS (ONGs/AIDS).
As ONGs/AIDS surgiram após a implantação da política governamental, inclusive no âmbito nacional, fomentadas pelo Estado. Tal fato pode ser evidenciado no caso do Gapa/SP, que teve apoio da SES-SP, assim como no caso da ABIA, cujos primeiros financiamentos foram garantidos pelo Inamps e pela Finep, instituições estatais, dirigidas por integrantes do movimento sanitário naquele momento.
O movimento associativo de luta contra a AIDS foi constituído buscando exterioridade ao movimento homossexual, ainda que muitos de seus integrantes fossem homossexuais ou oriundos desse movimento, no sentido de se tornar acessível a outros grupos, evitando o preconceito por determinados setores da sociedade. As ONGs/AIDS buscavam preencher as insuficiências da política estatal, com ações pautadas na dignidade dos doentes e nos direitos humanos. As principais críticas à política residiam na ausência de resposta assistencial e na concepção das campanhas preventivas de veiculação nacional, essa talvez a questão de maior controvérsia ao interior do espaço AIDS e ainda hoje uma questão em disputa. O ponto de vista do movimento associativo influenciou a promoção de um discurso mais inclusivo e menos estigmatizante, mas o que prevaleceu nas campanhas governamentais foi a concepção técnica dos agentes do campo burocrático, com influência do campo religioso.
O papel dominante do campo médico, a conjuntura do movimento sanitário, a participação de epidemiologistas na gestão do programa e a participação crítica das ONGs/AIDS concorreram para a formulação de uma política avançada, que se contrapôs às recomendações das agências internacionais, garantindo não apenas ações de caráter preventivo, mas também, o acesso ao tratamento. A partir do estabelecimento da estratégia de acesso universal aos ARVs em 1996, a política de AIDS ganhou reconhecimento internacional. O Programa Nacional passou a assumir um papel dominante, modificando as relações ao interior do espaço AIDS, reduzindo gradualmente as críticas à atuação do Ministério da Saúde pelas ONGs/AIDS, que passaram a brigar pelo cumprimento dos direitos adquiridos pelos portadores de HIV/AIDS.
Associado a isso, as evidências do impacto positivo da política brasileira sobre os indicadores de morbimortalidade levaram organizações internacionais que financiavam ações de ONGs/AIDS no Brasil a direcionar os recursos para países com respostas menos estruturadas e quadros epidemiológicos mais graves. Esse fato reduziu a oferta de financiamento para ONGs/AIDS, deixando os editais do Ministério da Saúde como única opção para o financiamento de diversas associações. A descentralização dos recursos para estados e municípios, a partir de 2002, e a baixa capacidade de gasto dos programas estaduais e diferentes legislações fiscais comprometeram o repasse de recursos às ONGs, agravando o subfinanciamento do setor.
Em que pese o relativo sucesso da política nacional e mesmo a vanguarda assumida pelo país, a sua continuidade e sustentabilidade não têm sido asseguradas. Para além de assegurar as características consideradas como exemplares, como a integralidade, a universalidade e a não discriminação, a compreensão das razões históricas, que permitiram a elaboração dessa política, evidenciam que a existência de um sistema de saúde público organizado e universal e com participação social foi uma das condições para que essa política se tornasse possível.
As condições históricas de possibilidade para o desenvolvimento de uma política de AIDS avançada naquele momento não deixaram de existir, mas a construção social dessa política não se encerra nelas. A dinâmica social vai construindo novos possíveis. Não estamos imunes a retrocessos. Se a formulação da lei de acesso universal aos antirretrovirais parece ter garantido a manutenção dessa política, enterrando a possibilidade de uma política de controle da AIDS no país sem acesso a medicamentos, novos desafios se impõem: o avanço da epidemia entre os jovens e idosos, o avanço do conservadorismo, a tentativa de proibir a discussão de sexualidade nas escolas, o subfinanciamento das ONGs/AIDS, a auto censura a campanhas governamentais. Associado a essas questões existem os problemas comuns a todo o SUS: falta de médicos e leitos, dificuldade para realização de exames, desabastecimento de medicamentos, entre eles ARV e medicamentos para tratamento das doenças decorrentes do seu uso prolongado.
Assim, a história da política de aids não se desvincula da construção histórica do Sistema Único de Saúde, cujas diretrizes incluem a justiça, a equidade e a universalidade. Foi pautada nessas premissas que essa política foi construída. Ameaças ao SUS são ameaças também à política de aids e de tantas outras doenças que estavam controladas. Nesse momento, é preciso defender o direito do povo brasileiro à saúde pública, gratuita e de qualidade.
* Professora Adjunta do Departamento de Odontologia Social e Pediátrica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia UFBA), possui graduação (1999) e mestrado (2005) em Odontologia também pela UFBA. É a autora do livro “Política Nacional de Aids: a construção da resposta governamental à epidemia HIV/aids no Brasil”, resultado da tese de doutorado defendida em 2013 pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC-UFBA).