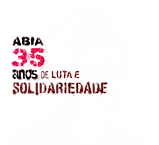Há quase 40 anos, o Brasil conhecia o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), que se manifesta após a infecção pelo HIV.
Com o primeiro caso registrado ainda na década de 1980, o vírus se popularizou como a ‘Doença dos 5H’: homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usurários de heroína injetável) e hookers (profissionais do sexo, em inglês).
Como o vírus era associado apenas a esses grupos, que já eram marginalizados pela sociedade, as ações para o combate efetivo contra a disseminação do HIV foram lentas.
“O Brasil começou muito mal nos anos 1980. Tinha muito preconceito envolvido. E o Governo Federal não se mostrou muito mobilizado para atuar na época. As conquistas que tivemos foram fruto do trabalho da Sociedade Civil”, conta Richard Parker, antropólogo americano e diretor-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA).
A ABIA atua desde 1990 para pressionar o poder público a criar e manter projetos destinados a diferentes populações vulneráveis ao HIV. Em 2015, criou o Observatório Nacional de Políticas em Aids para focar na construção de políticas públicas de combate à epidemia.
Como resultado da pressão da Sociedade Civil, desde 1996 o Brasil apresenta um programa reconhecido mundialmente como modelo no combate ao HIV e à Aids, e um dos poucos a garantir o acesso universal aos medicamentos de forma gratuita, através do Sistema Único de Saúde (SUS).
Vale ressaltar que o Brasil foi um dos poucos países a quebrarem a patente de um dos medicamentos para garantir a sua distribuição gratuita.
“Mas desde 2010 estamos vendo um retrocesso. O avanço da pauta conservadora dificulta muito o trabalho de prevenção. Campanhas para profissionais do sexo, por exemplo, foram censuradas. Há um abandono da luta contra o estigma e o preconceito, que ainda é difícil de enfrentar”, aponta Parker.
Novo governo, velhas pautas
O posicionamento do governo Bolsonaro se tornou um obstáculo difícil de contornar. Em fevereiro de 2020, época em que se discutia a campanha em prol da abstinência sexual entre os jovens, o presidente disse, durante conversa com a imprensa em Brasília, que uma pessoa portadora de HIV é “despesa para todos no Brasil”.
Além disso, ainda no primeiro ano do mandato, Bolsonaro modificou a estrutura do departamento que promove o combate à AIDS no Ministério da Saúde.
Para lideranças e ativistas ligados ao combate do HIV e da Aids, essa ocorrência colocou a pauta no “quartinho dos fundos” do Ministério.
“Pessoas ainda se assustam com o diagnóstico do HIV como se fosse em 1980. Tudo agora é mais abafado, reprimido da discussão pública. Bolsonaro já pegou um folheto sobre educação sexual para jovens e sugeriu que os pais deveriam cortar as páginas que falavam sobre camisinhas. É uma loucura. É o cúmulo do absurdo”, destaca Parker.
Uma imagem que não sai
A capa da revista Veja de 1989 apresentava um Cazuza debilitado, diferente da figura que se popularizou nos palcos, em shows como o do Rock in Rio 1985. A capa ainda trazia como título ‘Cazuza, uma vítima da AIDS agoniza em praça pública’.
Uma produção que nos últimos anos passou a ser criticada pela sua construção preconceituosa, mas que no ano de publicação serviu para marcar a população brasileira e fortalecer os estigmas.
Arte: Mariana Lima | Observatório 3º Setor
Era essa capa que Vanessa Campos tinha em mente quando, aos 19 anos, recebeu o resultado de HIV Positivo, em 1992. Ela estava vivendo com o vírus desde 1990, quando deu início à vida sexual com o único namorado até então.
A descoberta ocorreu apenas porque o rapaz, já ex-namorado, sofreu um leve acidente e acabou morrendo pouco depois, com meningite criptocócica, uma doença comum em quem tem o sistema imunológico debilitado. Uma investigação mostrou a existência do vírus HIV.
Os exames ainda não eram realizados em Manaus (AM), e foram dois meses de espera até o resultado de Vanessa chegar do laboratório em São Paulo.
Até então, ela levava uma vida saudável e não apresentava doenças oportunistas causadas pelo sistema imunológico mais fraco. A única ocorrência que teve foi um quadro de virose dois meses depois de iniciar a relação.
“Pediram vários exames na época, mas não o teste de HIV. Não fazia parte do imaginário popular que pudesse ser. Eu era uma adolescente saudável e heterossexual, não batia com o que era divulgado na mídia. Mas aquilo já era a infecção aguda pelo HIV”, conta.
Naquele período, ainda não havia o tratamento para o HIV, o coquetel de medicamentos utilizado atualmente. “Lembro de perguntar quanto tempo teria de vida. Eu achava que ia morrer rápido. Faltava tanta informação”.
Os anos seguintes não foram fáceis. Mesmo sendo de uma família de classe média, Vanessa residia em uma cidade pequena e, apesar das situações de preconceito não terem sido feitas de forma aberta, sentiu a necessidade de ir embora.
No Rio de Janeiro, ela acabou iniciando um relacionamento com um colega de trabalho que se tornou abusivo. “Querer ser aceita e ter apoio acabou me levando a essas situações. Fiquei no Rio de 1992 a 1996 e nunca fui à praia, porque ele não deixava”.
A primeira gravidez foi resultado de uma tentativa deste parceiro para manter o relacionamento. “Foi durante essa relação que fui ouvir falar sobre o que era a camisinha. Mas logo descobri que as mulheres não conseguem negociar o uso com o parceiro. Minha gravidez foi um terror. Só sabia que não podia amamentar e tive que fazer uma cesariana”.
O HIV pode ser transmitido durante a relação sexual sem camisinha, pelo uso de seringa compartilhada, pela transfusão de sangue, da mãe infectada para o filho durante a gravidez, parto ou na amamentação, e com o uso de instrumentos cortantes não esterilizados.
Quando o teste do filho deu negativo, Vanessa se sentiu livre para deixar o parceiro e voltar para Manaus. Lá, vivenciou outro relacionamento abusivo, que desta vez chegou à violência doméstica, mesmo enquanto estava grávida das duas filhas do casal – que não nasceram com o vírus.
Vanessa Campos é HIV Positivo desde 1989. Nos últimos anos, vem se dedicando ao ativismo. | Foto: Redes sociais
Após o divórcio, Vanessa se mudou com as filhas e tentou reconstruir sua vida em outras cidades, voltando para Manaus de forma definitiva apenas em 2016. Foi neste período que conheceu a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Aids (RNP+BRASIL), da qual é a representante estadual, e o Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas.
“Encontrar esses lugares foi fundamental para me dar coragem de falar abertamente sobre o meu HIV. Eu tive que viver o meu diagnóstico sozinha. Minha família me acolheu, mas eles queriam esquecer. Hoje, as pessoas ainda não falam para os familiares por medo de não ter acolhimento”.
Assim surgiu a página SoroposiDHIVA, espaço em que Vanessa, hoje com 47 anos e com a carga viral indetectável – que não transmite o HIV sexualmente –, divulga informações e acolhe pessoas diagnosticadas que buscam suporte e orientação.
“Temos quase 40 anos de epidemia de AIDS e a escola ainda não consegue fazer uma educação sexual efetiva. Culpar o jovem é um discurso raso e desonesto. O HIV foi motivo de culpa para mim por muitos anos”.
E completa: “O que a gente espera é que parem de nos ver como um vírus. Se o preconceito é uma doença, a informação é a cura”.
O futuro que ainda repete o passado
Em 2017, Ana*, 34, recebeu o diagnóstico de que era HIV Positivo. Ela tinha passado por uma cirurgia alguns meses antes e vinha tratando um quadro depressivo após a morte do pai. Sua imunidade vivia baixa, mas atribuía essa situação a uma infecção urinária contínua.
“Fiquei 22 dias internada. Não deu em nada. Passava os efeitos dos antibióticos e a infecção voltada. Em dois meses, perdi 10 quilos. Não passava pela cabeça de ninguém que pudesse ser HIV”.
Ana decidiu passar por um clínico que pediu uma bateria de exames, incluindo o teste para o HIV. “Naquela época, eu trabalhava na marra. Sentia um cansaço constante. Quando me ligaram e pediram para repetir só o exame do HIV, comecei a me preocupar”.
Ela fez o que a maioria das pessoas faz ao ver a possibilidade do HIV Positivo se aproximar: pesquisar na internet – o que se mostrou o pior caminho.
“Só encontrei notícias ruins. Pelos sintomas, eu já achava que estava morrendo. Contei apenas para a minha mãe e uma prima naquele momento, e elas me apoiaram muito. Mas o baque foi grande. Só entendi que não iria morrer quando iniciei o tratamento”.
Quando começou a refletir sobre como poderia ter se infectado, lembrou da última relação que teve, quase um ano antes do diagnóstico.
“Foi sem camisinha. Essa relação não durou e ele já tinha até se mudado. Quando testei positivo, busquei ele no Facebook e mandei mensagem avisando. Ele visualizou e me bloqueou. Provavelmente ele sabia que tinha”.
As situações de preconceito só começaram após contar para uma tia, em quem confiava, sobre o seu diagnóstico.
“Ela espalhou para outras pessoas da família sem a minha autorização. Além disso, ela fazia o teste todo mês quando eu ia na casa dela e usava um copo ou ia ao banheiro. É um preconceito que dói. Uma ferida que não vai cicatrizar nunca. Ela sangra em qualquer momento”, desabafa.
Contudo, Ana encontrou apoio na maior parte das pessoas para quem decidiu contar sobre a sua saúde. Ainda assim, por muito tempo se sentiu insegura para iniciar novos relacionamentos, principalmente sorodiscordantes – quando um tem HIV e o outro não.
“Sinto que vivo dentro de uma caixa. Tenho vontade de gritar, mas o medo domina. Hoje, lido melhor do que quando descobri. Já consigo sair para me divertir sem aquela culpa gritante”.
Falha na comunicação
Silvia Almeida, 54, testou positivo para o HIV em 1994 após ser infectada pelo marido, que morreu dois anos depois, vítima da AIDS. Cinco anos após o diagnóstico, tendo o suporte necessário, ela começou a falar abertamente sobre o que é viver com o vírus. Hoje está com a carga viral indetectável.
Aposentada, ela entrou no ativismo atuando como consultora para o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS Brasil) e reforça que o país vem falhando no desenvolvimento de uma abordagem forte sobre a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
“Não estamos fazendo a lição de casa. A medicação agora permite que se conviva com o HIV como se fosse uma doença crônica. Parece que está tudo bem, mas não é assim. O preconceito e o estigma ainda batem a nossa porta todos dias. Atendo pessoas que acabaram de descobrir. A dor e o medo ainda são os mesmos de 40 anos atrás”.
Para ela, é fundamental um trabalho de conscientização que trate do HIV e da AIDS de forma mais concreta.
“Não é um problema resolvido. Muitas pessoas ainda não conseguem entender suas vulnerabilidades. O HIV e a AIDS não atingem apenas determinados grupos. É importante ter um espaço para falar sobre a discriminação”, considera.
Os números que não diminuem
Em 2019, o Ministério da Saúde alertou que 135 mil brasileiros convivem com o vírus HIV e não sabem. De acordo com os dados, das 900 mil pessoas com HIV, 766 mil foram diagnosticadas, 594 mil fazem tratamento com antirretroviral e 554 mil não transmitem o HIV.
Segundo o médico Karim Ibrahim, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), o número é resultado do preconceito, da falta de informação e do medo.
“As pessoas ficam na esperança de ser negativo. Fazem o teste e não buscam o resultado. Muitos ainda têm no imaginário o cenário da década 1980. O susto e o medo de morrerem rápido. A primeira impressão é a que fica e 40 anos depois ainda é difícil desassociar”, argumenta.
O médico reforça que o peso social do diagnóstico positivo é um fator dominante, uma vez que o estigma ainda se faz presente na sociedade.
“É como se o teste expusesse a intimidade para a sociedade. Muitos desconfiam que têm, mas não fazem o teste. Se fosse apenas o medo, seria o contrário”.
O balanço ainda aponta que o número de contaminados continua subindo no país: em 2018, eram 866 mil pessoas, sendo 43,9 mil novos casos registrados apenas naquele ano.
Vale ressaltar que o Brasil registrou uma alta de 21% no número de novas infecções entre 2010 e 2018, segundo o UNAIDS Brasil.
“Apesar de poder atingir qualquer um, se não for parte do grupo que está no imaginário é difícil que o teste ocorra. Já acompanhei idosos que passaram por diversos prontos-socorros e ninguém pensou que pudesse ser HIV. Não deveria ser assim. Muitos idosos levam uma vida ativa e precisam ter acesso à prevenção e à informação”, explica Ibrahim.
De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, o número de novos casos de HIV aumentou 15% entre os idosos. No total, em 2018, foram registradas 106 novas infecções.
*O nome foi trocado a pedido da entrevistada.
Fonte: Observatório 3º Setor