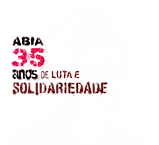Em visita à sede da ABIA, Cleo de Oliveira aceitou o convite para neste 29\01 conversar sobre o Dia da Visibilidade Trans. Estudante do último período do Serviço Social na PUC-RJ, a filha mais velha de uma família de três irmãos falou sobre o que considera fundamental para que as pessoas trans tenham acesso à cidadania no século XXI. Oliveira também contou-nos sobre o seu processo pessoal de transição, como é a experiência de ter o nome e o sexo retificados e pede que haja mais amor entre as pessoas trans. Sobre o HIV e a AIDS no contexto da transexualidade, não economizou palavras. Para ela, a realidade da pessoa trans é muito pior “porque carrega um estigma muito maior a partir do momento que vive com o HIV”. A Rede Paraense das Pessoas Trans divulgou que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. E, segundo a Rede Trans Brasil, a cada 28h uma pessoa trans é morta no país.
ABIA: Qual tema você considera crucial nos dias atuais para a população trans e que precisa vir à tona neste Dia da Visibilidade Trans?
CLEO OLIVEIRA: É preciso falar em empregabilidade, educação e atenção à saúde para a população trans. Em geral, somos vistas como um problema social, mas nossa questão é de saúde pública, por exemplo. Também é preciso garantir o acesso à educação para ampliar a nossa empregabilidade. Porém, a sociedade deve se educar para entender as nossas especificidades. Vejo muita gente dizer que está cansada de ensinar como é que devem nos tratar. Mas se ninguém nunca disse antes, é complicado achar que a pessoa vai aprender de primeira. Mas é fato que a falta de informação e a invisibilidade da população trans geram preconceito e isolamento. No período da transição, momento crucial da vida da maioria das pessoas trans que em geral acontece no início da juventude, marca o início do rompimento de alguns laços sociais que são imprescindíveis. Um deles é o laço familiar. Com isso, há o afastamento da educação formal.
ABIA: Foi o que aconteceu com você?
CLEO: Mesmo com uma base familiar, em algum momento, deixei a escola. Mas voltei muito tempo depois. Hoje sou graduanda em Serviço Social na PUC-Rio. Vou me formar este ano. Mas sei que o afastamento da escola formal e do percurso dito “natural” em relação à questão do conhecimento e da formação pedagógica traz conseqüências drásticas para a vida de alguém.
ABIA: No seu caso, o afastamento aconteceu em que idade?
CLEO: Minha transição foi em duas etapas. Fiz uma primeira tentativa e encontrei muitas barreiras: deixei a escola, rompi por um pequeno espaço de tempo com a família e fui procurar trabalho. Eu entendia que naquele momento eu precisava trabalhar e ser independente para assumir minha identidade. Nessa época eu tinha entre 16 a 18 anos. Foi um período bem turbulento. Cheguei a morar com uma amiga trans, mas não me adaptei. Ela vivia o que o senso comum diz que é a realidade de todas as travestis e transexuais: a prostituição. Mas para mim era algo extremamente estranho e minha amiga foi muito generosa comigo. Na ocasião, entendi o que as trans sentiam: podiam dizer “vocês me excluem, mas os seus maridos e filhos me desejam tanto que são capazes de pagar para ter diversas relações sexuais comigo”. Foi quando decidi voltar para casa. Liguei para minha mãe e a condição que eu tive para voltar para casa era abandonar tudo aquilo. Pensei: “vamos ser estratégico nesse momento. Não tenho como me manter e não é essa realidade que quero pra minha vida. Volto para casa, adio um pouco isso, e assim que eu puder…”. Foi assim que eu fiz.
ABIA: E a sua segunda saída de casa foi com que idade?
CLEO: Não aconteceu a segunda saída. Fiz a transição, mas não a segunda saída. Não foi bem uma aceitação, eu costumo dizer que eu fiz um processo inverso. A maioria das pessoas trans, primeiro elas se revelam na rua para os estranhos, pra depois fazer pra família. Eu fiz o processo inverso. Em casa, era o mais feminina possível e fui tornando aquilo tão costumeiro, tão natural, para depois fazer o processo fora de casa. Foi difícil, foi doloroso, triste, sofrido e desesperador em muitos momentos. Mas fez parte do processo. Hoje eu tenho uma relação com a minha família, que eu costumo dizer que eu ganhei mais do que a aceitação deles. Ganhei respeito como pessoa, à minha dignidade como pessoa, muito mais do que ao meu gênero.Construímos respeito mútuo. De alguma maneira consegui fazer com que a minha mãe enxergasse que eu não era um monstro, que a minha condição de mulher transexual não me desmerecia como ser humano, não interferia nos valores que ela tinha me passado, nem no meu caráter.
ABIA: Quais as dificuldades que a pessoa trans enfrenta no acesso à saúde?
CLEO: As pessoas ficam surpresas com os médicos que não se acham competentes para cuidar da temática. Mas o cara não estudou a coisa dessa forma, não se especializou nisso. E falo do passado quando começou o uso do silicone industrial (que hoje em dia diminuiu muito), mas já foi um boom. Lembro das próteses de silicone que eram feitas em mulheres transexuais e, em sua maioria, aplicadas de forma clandestina. E os “médicos” não ofereciam nenhuma assistência no pós-operatório. O que levou a população trans inicialmente ao sistema de saúde foram todos os problemas relacionados a isso. Vale lembrar que ninguém sabia tratar da questão da hormonização, da feminização, da testosterona…
ABIA: E atualmente, quais são as principais barreiras no acesso à saúde?
CLEO: O médico permanece no topo da pirâmide e sem ter sido ensinado a trabalhar com a população trans. Depois vem o sistema de saúde que também não está preparado para a chegada da população trans, que é invisível. O principal problema hoje é que a população trans passou a gritar e a dizer: “nós estamos aqui”. Mas ainda lhe é negado o direito de existir. E quando a população trans chega hoje nos hospitais, não consegue ser tratada como indivíduo, os direitos lhe são negados, e o profissional não está qualificado para lidar com a gente. Continuamos a ter problemas específicos relacionados à hormonização, ao silicone industrial e aos problemas psicossociais que o preconceito causa na gente.
ABIA: O nome social ainda é uma barreira no acesso à saúde. Como isso é enfrentado?
CLEO: Hoje em dia, pode-se dizer que 30% da população trans já se sente apta a reivindicar um direito quando lhe é negado. Mas os outros 70%, por conta de uma série de fatores, muitas vezes recuam diante da negação do direito ao nome social. Creio que para a própria população ainda é muito novo essa questão de reivindicar o seu direito, de dizer “posso te colocar na cadeia se você me constranger novamente”. Eu, que tenho o meu nome e sexo retificados, por várias vezes, precisei me posicionar ao dar a identidade e a pessoa me chamar de “senhor” e eu responder: “se você me chamar de senhor de novo, eu te processo”.
ABIA: A condição de vulnerabilidade social, exclusão e violência são temas relevantes no contexto da exposição ao vírus HIV. Como o preconceito, a discriminação e o estigma pioram este cenário para as pessoas trans?
CLEO: É algo muito complexo, porque a pessoa com HIV e AIDS, em sua maioria, a primeira tendência ao descobrir a infecção é o isolamento. E isso para a pessoa trans é muito pior porque carrega um estigma muito maior a partir do momento que vive com o HIV. Convivi com poucas pessoas trans com AIDS ou vivendo com HIV. Algumas nunca me disseram, mas eu sabia que eram soropositivas. A condição de soropositiva para pessoa trans é como andar puxando uma bola de ferro. E ainda tem que ser atendida por um profissional que não tem a menor boa vontade para lidar com a questão do HIV e não está habilitado a lidar com as conseqüências sociais da infecção.
ABIA: Conte-nos um pouco que foi o Projeto Transcender, da Fiocruz, e como foi participar desta iniciativa?
CLEO: O Transcender nasceu a partir de um projeto ligado à prevenção e tratamento do HIV/AIDS. O foco era o auxílio na atenção à saúde da mulher transexual e travesti, principalmente àquelas que estavam no contexto da população vulnerável, que eram as mulheres que se prostituíam. Mas esse não era o único foco do projeto. Havia oficinas socioeducativas, lúdicas que buscavam o fortalecimento dos vínculos sociais, da valorização da autoestima… Para mim, os projetos da Fiocruz me ajudaram a me reaproximar da população trans. Aprendi muito: a desfazer preconceitos, a desconstruir pensamentos, a reconhecer a minha igualdade com aquelas pessoas ali… Não que eu me achasse mais, mas me achava diferente. E eu não conseguia me sentir próxima, não conseguia me identificar como um todo. O Transcender me ajudou muito nesse sentido.
ABIA: E o Estudo PrEParadas?
CLEO: É um projeto mais legal ainda da Fiocruz porque tem um viés de uma atenção mais integral, no meu ponto de vista. Visa a questão endocrinológica, a sociabilidade a partir da hormonização, a desmistificação da passabilidade social (conceito que define a condição das trans que passam “batidas” porque são mais femininas e dá a ilusão da aceitabilidade social). É muito bom.
ABIA: Que mensagem você gostaria de deixar neste Dia da Visibilidade Trans?
CLEO: Gostaria de pedir às mulheres transexuais e travestis para que a gente se amasse mais, que a gente pudesse estar umas com as outras por puro amor fraterno. Que a gente não se deixe contaminar pelo que a sociedade faz com a gente e nem reproduza isso umas com as outras. E para as pessoas, em geral, que possam enxergar, em primeiro lugar, a humanidade no outro. E que a sociedade se eduque e se permita ser educada para que a população trans possa existir.
ABIA: O que tem a dizer para a mulher negra no contexto da transexualidade?
CLEO: Enfrentamos uma realidade muito difícil. Você se reconhece como mulher e, em seguida, vem o racismo: mulher negra. E junto vem o estigma da mulher negra, trans e fora do padrão socialmente imposto: não é magrinha, esbelta… E aí é pesado. Costumo dizer para as meninas: “A gente é preta e mulher preta resiste sempre. Então vamos à luta, vamos em frente”.