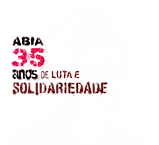Carlos Henrique de Oliveira*
Salvador Campos Corrêa**
O HIV e a AIDS ainda hoje estão imersos em desconhecimentos, tabus e preconceitos. Estamos num momento de intensos paradoxos em todos os âmbitos da vida, e, talvez, seja isso também que influencie a atual situação envolta da AIDS e as vivências de cada pessoa vivendo com HIV ou AIDS (PVHA).
Atualmente receber o diagnóstico de HIV positivo não é mais um decreto de morte que já fora no passado. As tecnologias avançaram, o tratamento pode proporcionar uma qualidade de vida equiparada à da população que não vive com HIV e com AIDS, e já debatemos nos Congressos e simpósios da vida, abertamente, sobre a possibilidade de cura, que se insere no debate como uma perspectiva real.
Além disso, uma pessoa que faz o tratamento antirretroviral, sem interrupção ou falhas, atinge o nível de indetectabilidade do HIV nos exames, ou seja, a quantidade de vírus circulando pelo corpo é insuficiente para ser detectada pelos exames. E, estar indetectável significa não transmissão, ou seja, está comprovado que uma pessoa com HIV e com carga viral indetectável não transmite o vírus,o que incentivou a construir a campanha indetectável é igual a intransmissível. Embora seja oficialmente reconhecido por alguns países, no Brasil essa informação não é assim tão disseminada. O governo brasileiro e também alguns profissionais de saúde tem dificuldades em reconhecer que quem tem carga viral indetectável não transmite o vírus. Quando o governo tem dificuldades de fazê-lo, fica cerceado o direito de acesso à informação que poderia minimizar os impactos da discriminação que afeta pessoas com HIV.
Mas, por que, então, ainda existe discriminação e estigma? Por que num quadro científico tão promissor, ainda existe, sim, mortalidade por AIDS, alta principalmente na população negra e pobre? Por que existe aumento, também, dos novos casos de HIV, principalmente entre HSH (homens que fazem sexo com homens), gays, mulheres trans, travestis, bissexuais e jovens?
Respondemos primeiro com uma pergunta: o que vem a sua cabeça quando ouve a palavra AIDS? E HIV?
Poucos sabem sobre a diferença de estar com HIV, sem o desenvolvimento de doenças, e estar adoecido, com AIDS. Pouco refletimos sobre quem está bem, com o quadro clínico em perfeito estado e com carga viral indetectável, e refletimos menos ainda sobre quem ainda adoece, em pleno suprassumo da evolução científica. E sabem o motivo? Porque pensamos pouco sobre o vírus social, o CID social que o sociólogo Betinho e o escritor Herbert Daniel tanto falavam. Esquecemos que HIV tem a ver com emprego, alimentação, moradia, afetividades, sexo, amizades, ou seja, com a complexidade que é a vida.
As perguntas para palestrantes que vivem com HIV e AIDS em geral giram em torno de dúvidas muito básicas: “há vida após o diagnóstico?”, “como é o tratamento”, “tem efeitos colaterais?”, “vocês namoram?” “é possível transar mesmo tendo HIV?”. É quase uma chamada de programa televisivo: “hoje veremos as pessoas vivendo com HIV. O que comem, como vivem, de onde são… sexta-feira no Globo Repórter”. Ou se perguntar se tais pessoas sofrem racismo, LGBTfobia, machismo, ou perguntar sobre as relações entre ter emprego e tomar remédio, já é algo que acontece menos. Isso evidencia como precisamos debater mais o HIV nos espaços sociais para além do que temos feito em épocas como carnaval e Dia Mundial de Luta contra a AIDS.
Nós focamos muito na questão biológica do HIV, no estigma da AIDS, aquela AIDS entendida como “suja” – dos anos oitenta, que veio do sexo “pecaminoso” dos gays e da África (sim, pensamento homofóbico e racista), e depois se alastrou e ainda se alastra como castigo. Não estamos brincando, nem exagerando. Pouca coisa mudou no preconceito com as Pessoas Vivendo com HIV e AIDS (PVHA). E ainda se discute muito pouco na sociedade sobre tal estigma da AIDS.
Ao falar da AIDS — ou ao tentar escondê-la, com medo do estigma, e daí só falando do HIV, fazendo questão de desassociar de qualquer vestígio de doença — talvez esqueçamos o quanto de complexidade existe no viver humano. Esquecemos que todas e todos envelhecemos, temos limitações como “meros mortais” que somos, animais da espécie homo-sapiens (se é que já não é outro nome). E aqui voltamos para o que começamos no início: a contradição.
A AIDS está em extremos paradoxos na atualidade: “avanço do tratamento e qualidade de vida” versus “desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro”; “quem está com carga viral indetectável não transmite HIV” versus “população negra tem 2,4 vezes mais chances de adoecer de AIDS e três mais chances de morte”; “aumento da epidemia entre jovens na faixa etária escolar” versus “aumento do conservadorismo e proibição de discussão de gênero e sexualidade nas escolas”. E é um paradoxo que permeia toda a sociedade. Precisamos, então, de unidade para dar resposta a tais demandas.
Precisamos retomar a integralidade, o olhar holístico para a AIDS. Enxergar o nosso corpo, nossa sexualidade plena, como parte de um todo, que é a estrutura da sociedade. Quando falarmos de prevenção combinada, por exemplo, precisamos romper com o discurso prescritivo de que “combinado” é “combinar” um ou mais métodos biomédicos de prevenção (camisinha + PrEP — profilaxia pré-exposição, medicamentos que previnem o HIV). Prevenção é política pública, é verba, mudanças estruturais, é o nosso corpo livre e autônomo com conhecimento, é falar abertamente de gênero e sexualidade em todos os espaços, inclusive em escolas. Prevenção é devolver a autonomia, a capacidade de escolha, a cidadania para os sujeitos. Assistência e adesão ao tratamento não é só remédio, é trabalho, emprego, afeto, enfrentamento à(s) discriminação(ões).
E, assim, juntas e juntos, precisamos construir uma nova narrativa social para o HIV e AIDS, que seja contracorrente e libertária, com valorização dos aspectos sociais, da vida, da mobilização social e da luta por direitos. E nós, da comunidade LGBT, precisamos fazer também parte disso, e também tomarmos para nós (sendo ou não PVHA) as pautas da saúde pública, pois o direito ao corpo e à saúde garantidos (e não acessados tão somente como mercadoria) é a base para que possamos ter a autonomia que tanto almejamos.
*Carlos Henrique de Oliveira é escritor, membro do coletivo Loka de Efavirenz e da Rede de Jovens SP+ e militante da corrente Resistência e do movimento negro paulistano.
**Salvador Campos Corrêa é psicólogo e coordenador de TEC da ABIA